("L'elixir de longue vie", 1830)
Se a glória de Balzac (1799-1850) se funda na Comédia humana, ou seja, no grande afresco da sociedade francesa de seu tempo, não é menos verdade que as obras fantásticas têm um lugar de relevo em sua produção, especialmente no primeiro período, quando ele era mais influenciado pelo ocultismo de Swedenborg. O romance fantástico A pele de onagro (1831) é uma de suas obras-primas. Mas até nos seus romances mais conhecidos como "realistas" há uma forte dose de transfiguração fantástica, que é um elemento essencial da sua arte.
Quando Balzac iniciou o projeto da Comédia humana, a narrativa fantástica da juventude foi relegada à margem de sua obra; assim o conto "O elixir da longa vida", publicado em revista em 1830, foi republicado entre os Estudos filosóficos, precedido de uma introdução que o apresentava como um estudo social acerca dos herdeiros impacientes com a morte dos genitores. Acréscimo artificioso, que preferimos ignorar; o texto que aqui apresento é o da primeira versão.
O cientista satânico é um velho tema medieval e renascentista (Fausto, as lendas dos Alquimistas) que o século XIX, primeiro romântico e depois simbolista, saberá explora (basta lembrar o Frankenstein de Mary Shelley, que só não está nesta coletânea por ser muito longo) e que depois será adotado pela ficção científica.
Aqui nos deparamos com uma hipotética Ferrara quinhentista. Um velho riquíssimo busca um unguento oriental que faz ressuscitar os mortos. Balzac tem muitas idéias, talvez idéias demais: a Itália renascentista, pagã e papal, a Espanha beata e penitencial, o desafio alquimista às leis da natureza, a danação de Don Giovanni (com uma curiosa variante: é ele que se torna o convidado de pedra) e um final espetacular, cheio de pompas eclesiásticas e de sarcasmos blasfemos. Mas o conto se impõe pelos efeitos macabros das partes do corpo que vivem por si: um olho, um braço e até uma cabeça que se destaca do corpo morto e morde o crânio de um vivo, como o conde Ugolino no Inferno.
Num suntuoso palácio de Ferrara, numa noite de inverno, don Juan Belvidero obsequiava um príncipe da Casa d'Este. Nessa época, uma festa era um es-petáculo maravilhoso que só riquezas fabulosas ou o fausto de um nobre permitiam organizar. Sentadas ao redor de uma mesa iluminada por velas perfumadas, sete alegres mulheres trocavam frases ligeiras, entre obras-primas admiráveis cujos mármores brancos se destacavam nas paredes de estuque vermelho e contrastavam com os ricos tapetes da Turquia. Vestidas de cetim, resplandecentes de ouro e cobertas de pedrarias que brilhavam menos que seus olhos, todas elas contavam paixões violentas, mas diferentes, como o eram suas belezas. Não se diferenciavam nem pelas palavras nem pelas idéias; mas o jeito, um olhar, alguns gestos ou a inflexão da voz serviam às suas palavras de comentários libertinos, lascivos, melancólicos ou satíricos.
Uma parecia dizer: "Minha beleza sabe aquecer o gélido coração dos velhos" Outra: "Gosto de ficar deitada em cima de almofadas para pensar inebriada naqueles que me adoram". Uma terceira, noviça nessas festas, estava quase enrubescendo: "No fundo do coração sinto remorso!", dizia. "Sou católica e tenho medo do inferno. Mas te amo tanto, ah!, tanto e tanto, que posso sacrificar-te a minha eternidade."
A quarta, esvaziando uma taça de vinho de Chio, exclamava: "Viva a alegria! Ganho uma existência nova a cada aurora! Esquecida do passado, ainda tonta pelas investidas da véspera, toda noite esgoto uma vida de alegria, transbordante de amor!". A mulher sentada perto de Belvidero mirava-o com olhos congestionados.
Estava calada. "Eu não confiaria nos bravi para matar meu amante, se ele me abandonasse!". Depois, riu, mas sua mão convulsa quebrou uma bomboneira de ouro miraculosamente talhada.
"Quando serás grão-duque?", perguntou ao príncipe a sexta mulher, com uma expressão de alegria mortífera nos dentes, e um delírio dionisíaco nos olhos.
"E tu, quando morrerá teu pai?", disse a sétima, rindo, jogando seu ramalhete para don Juan num gesto inebriante de travessura.
Era uma inocente donzela acostumada a brincar com todas as coisas sagradas. 'Ah!, nem me fales disso!", exclamou o jovem e belo don J uan Belvidero. "Só há um pai eterno no mundo, e a desgraça quer que seja o meu!"
As sete cortesãs de Ferrara, os amigos de don J uan e o próprio príncipe deram um grito de horror. Duzentos anos depois, no tempo de Luís XV, as pessoas de bom gosto teriam rido dessa tirada. Mas, também, será que no começo de uma orgia as almas ainda teriam bastante lucidez? Apesar do fogo das velas, do grito das paixões, do aspecto dos vasos de ouro e de prata, do vapor dos vinhos, apesar da contemplação das mulheres mais encantadoras, será que ainda havia, no fundo dos corações, um pouco dessa vergonha diante das coisas humanas e divinas, que se debate até ser afogada pela orgia nas derradeiras vagas de um vinho espumante? No entanto, já as flores tinham sido esmagadas, os olhos se embaçavam, e a embriaguez chegava, de acordo com a expressão de Rabelais, até as sandálias.
Nesse instante de silêncio, abriu-se uma porta; e como no festim de Baltazar, Deus se fez reconhecer; apareceu sob os traços de um velho criado de cabelos brancos, andar trêmulo, cenho franzido; entrou com ar triste, destruiu com um olhar as guirlandas, as taças de vermeil, as pirâmides de frutas, o brilho da festa, a púrpura dos rostos espantados e as cores das almofadas amarfanhadas pelo braço branco das mulheres; por fim, jogou um véu de luto sobre aquela loucura ao dizer em voz cavernosa estas palavras sombrias: "Senhor, vosso pai está à morte".
Don Juan se levantou fazendo para seus convidados um gesto que podia se traduzir por "Desculpai-me, isso não acontece todo dia".
Não é frequente que a morte de um pai surpreenda os jovens nos esplendores da vida, em meio às idéias loucas de uma orgia? A morte é tão súbita em seus caprichos como uma cortesã em seus desdéns; mais fiel, todavia, jamais enganou alguém.
Quando don J uan fechou a porta da sala e andou por uma galeria comprida, tão fria quanto escura, esforçou-se em assumir uma atitude teatral; ao pensar em seu papel de filho, deixou de lado sua alegria, assim como deixara de lado seu guardanapo. A noite estava negra. O silencioso servidor que conduzia o rapaz até o quarto fúnebre iluminava muito mal o seu senhor, de modo que a morte, ajudada pelo frio, o silêncio, a escuridão, por uma reação de embriaguez, pôde talvez introduzir certas reflexões na alma desse dissipador; ele examinou sua vida e ficou pensativo como um homem que está sendo processado se encaminha para o tribunal.
Bartolomeo Belvidero, pai de don Juan, era um ancião nonagenário que passara a maior parte da vida nas artimanhas do comércio. Tendo atravessado muitas vezes as talismânicas paragens do Oriente, adquirira imensas riquezas e conhecimentos mais preciosos, dizia, do que o ouro e os diamantes, a que já não dava importância.
"Prefiro um dente a um rubi, e o poder ao saber", exclamava às vezes, sorrindo. Esse bom pai gostava de ouvir don Juan lhe contar uma loucura de juventude, e dizia em tom de troça, oferecendo-lhe ouro: "Meu filho querido, faz apenas as tolices que te divertirem". Era o único velho que sentia prazer em ver um moço, o amor paterno dissimulava sua caduquice pela contemplação de uma vida tão brilhante.
Aos sessenta anos, Belvidero se apaixonara por um anjo de paz e beleza. Don Juan fora o único fruto desse amor tardio e passageiro. Fazia quinze anos que o pobre homem pranteava a perda de sua querida Juana. Seus inúmeros criados e seu filho atribuíam a essa dor de ancião os hábitos singulares que ele contraíra. Refugiado na ala mais desconfortável de seu palácio, Bartolomeo de lá só saíamuito raramente, e o próprio don Juan não podia entrar nos aposentos do pai sem permissão. Se esse anacoreta voluntário ia e vinha pelo palácio ou pelas ruas de Ferrara, parecia procurar uma coisa que lhe faltava; andava sonhador, indeciso, preocupado como um homem que luta contra uma ideia ou uma lembrança.
Enquanto o rapaz dava festas suntuosas e o palácio ressoava com as explosões de sua alegria, enquanto os cavalos escoiceavam nos pátios, enquanto os pajens brigavam ao jogar dados nos degraus, Bartolomeo comia sete onças de pão por dia e bebia água. Se precisava de um pouco de galinha, era para dar os ossos a um cão de caça preto, seu fiel companheiro. Nunca se queixava do barulho. Enquanto esteve doente, se o som da trompa e os latidos dos cães o surpreendiam em seu sono, contentava-se em dizer: "Ah! é don Juan que está voltando". Nunca, nesta terra, se encontrara um pai tão acomodatício e tão indulgente; por isso, o jovem Belvidero, acostumado a tratá-lo sem cerimônia, tinha todos os defeitos dos filhos mimados; vivia com Bartolomeo como uma cortesã caprichosa vive com um velho amante, fazendo desculpar uma impertinência com um sorriso, vendendo seu belo humor, e deixando-se amar.
Ao reconstituir no pensamento o quadro de seus verdes anos, don Juan se deu conta de que lhe seria difícil encontrar uma falha na bondade de seu pai. Ao ouvir o remorso que nascia no fundo de seu coração, no momento em que atravessava a galeria, esteve prestes a perdoar Belvidero por ter vivido tanto tempo. Voltava aos sentimentos de piedade filial, assim como um ladrão se torna homem honesto quando pensa no possível desfrute de um milhão, bem roubado.
Logo o rapaz atravessou as salas altas e frias que formavam os aposentos de seu pai. Depois de sentir os efeitos de uma atmosfera úmida, respirar o ar carregado e o cheiro rançoso que exalavam as velhas tapeçarias e os armários cobertos de poeira, encontrou-se no antiquado quarto do ancião, diante de um leito nauseabundo, perto de uma lareira quase apagada. A lamparina que estava em cima de uma mesa de forma gótica jogava no leito, a intervalos desiguais, lâminas de luz mais ou menos forte, e mostrava assim a figura do ancião sob aspectos sempre diversos. O frio assobiava pelas janelas mal fechadas; e a neve, fustigando as vidraças, produzia um ruído surdo. Esse cenário formava um contraste tão chocante com a cena que don J uan acabava de deixar que ele não conseguiu evitar um estremecimento. Depois sentiu frio, quando, ao se aproximar da cama, uma rajada de luz muito violenta, impelida por uma lufada de vento, iluminou a cabeça de seu pai: as feições estavam descompostas, a pele, como que colada fortemente nos ossos, tinha manchas esverdeadas que na brancura do travesseiro sobre o qual o ancião repousava ficavam ainda mais horrorosas; contraída pela dor, a boca entreaberta e sem dentes deixava passar uns suspiros cujo vigor lúgubre era acompanhado pelos uivos da tempestade.
Apesar desses sinais de destruição, brilhava sobre essa cabeça uma inacreditável aparência de força. Ali, um espírito superior combatia a morte. Os olhos, encovados pela doença, mantinham uma fixidez singular. Parecia que Bartolomeo tentava matar, com seu olhar de agonizante, um inimigo sentado ao pé da cama. Esse olhar, fixo e frio, era mais horripilante ainda porque a cabeça permanecia numa imobilidade semelhante à dos crânios que os médicos colocam em cima da mesa. O corpo inteiramente modelado pelos lençóis da cama anunciava que os membros do ancião conservavam a mesma rigidez. Tudo estava morto, menos os olhos. Por fim, os sons que saíam de sua boca tinham qualquer coisa de mecânico. Don Juan sentiu certa vergonha de chegar junto ao leito de seu pai moribundo quando ainda guardava no peito um ramalhete da cortesã, e levando até ali os perfumes da festa e os aromas do vinho.
"Estás te divertindo!", exclamou o ancião ao avistar o filho. No mesmo instante, a voz pura e ligeira de uma cantora que maravilhava os convivas, reforçada pelos acordes da viola com que ela se acompanhava, dominou o ronco da tormenta, e ressoou naquele quarto fúnebre. Don Juan não quis ouvir essa selvagem afirmação de seu pai.
Bartolomeo disse: "Não te quero mal por isso, meu filho". A frase cheia de doçura fez mal a don J uan, que não perdoou o pai por essa bondade pungente.
"Que remorsos eu sinto, meu pai!", disse-lhe hipocritamente. "Pobre J uanito", recomeçou o moribundo com voz surda, "sempre fui tão meigo contigo que não serias capaz de desejar minha morte?"
"Oh!", exclamou don J uan, "se fosse possível restituir-te a vida dando uma parte da minha!" ("Sempre podemos dizer essas coisas", pensava o dissipador, "é como se eu oferecesse o mundo à minha amante!") Mal concluiu seu pensamento, o velho cão de caça latiu. Aquela voz inteligente fez don Juan estremecer; teve a impressão de ter sido compreendido pelo cachorro.
"Eu bem sabia, meu filho, que podia contar contigo", exclamou o moribundo. "Eu viverei. Vai, serás feliz. Eu viverei, mas sem retirar um único dos dias que te pertencem."
"Está delirando", pensou don Juan. Depois acrescentou bem alto: "Sim, meu pai querido, viverás, decerto, tanto quanto eu, pois tua imagem estará permanentemente dentro do meu coração."
"Não se trata dessa vida", disse o velho senhor reunindo suas forças para recostar-se, porque se comoveu ao ter uma dessas suspeitas que só nascem na cabeceira dos agonizantes. "Escuta, meu filho", recomeçou com a voz enfraquecida por esse último esforço, "tenho tão pouca vontade de morrer como tu tens de dispensar tuas amantes, o vinho, os cavalos, os falcões, os cães e o ouro."
"Eu bem acredito", pensou o filho ao se ajoelhar à cabeceira do leito e beijar uma das mãos cadavéricas de Bartolomeo.
"Mas", recomeçou em voz alta, "meu pai, meu querido pai, é preciso se submeter à vontade de Deus."
"Deus sou eu", retomou o ancião, resmungando.
"Não blasfemes", exclamou o rapaz ao ver o ar ameaçador que assumiam as feições de seu pai. "Cuidado com o que dizes, recebeste a extrema-unção, e eu não me conformaria em ver-te morrer em estado de pecado."
"Queres me ouvir?", exclamou o moribundo, cuja boca deu um rangido. Don J uan se calou. I mpôs-se um terrível silêncio. Pelos silvos pesados da neve ainda chegavam, tênues como um dia raiando, os acordes da viola e a voz deliciosa.
O moribundo sorriu.
"Agradeço-te por teres convidado cantoras, por teres trazido música! Uma festa, mulheres jovens e belas, alvas, de cabelos negros! Todos os prazeres da vida, deixa-os ficarem, pois vou renascer."
"O delírio está no auge", pensou don Juan."Descobri um meio de ressuscitar. Ouve! Procura na gaveta da mesa, vais abri-la apertando uma mola escondida pelo grifo."
“Achei, meu pai."
“Aí, isso, pega um frasquinho de cristal de rocha."
“Aqui está."
"Dediquei vinte anos a..."
Nesse momento, o ancião sentiu o fim se aproximar e juntou toda a sua energia para dizer: "Logo que eu tiver dado o último suspiro, me esfregarás todo com essa água, e renascerei."
"Há bem pouca água", retrucou o rapaz.
Se Bartolomeo não conseguia mais falar, ainda tinha a faculdade de ouvir e ver; com essas palavras, sua cabeça se virou para don Juan num movimento assustadoramente brusco, seu pescoço ficou torto como o de uma estátua de mármore que o pensamento do escultor condenou a olhar de lado, seus olhos dilatados contraíram uma horripilante imobilidade. Estava morto, morto, perdendo sua única, sua derradeira ilusão. Ao procurar abrigo no coração de seu filho, ali encontrou um túmulo mais profundo que os túmulos que os homens costumam cavar para seus mortos. Assim, seus cabelos ficaram arrepiados de horror, e seu olhar convulso ainda falava. Era um pai irado se levantando de seu sepulcro para pedir vingança a Deus!
"Pronto! O coitado se acabou", exclamou don Juan.
Apressado em observar no clarão da lamparina o misterioso cristal, assim como um bebedor consulta sua garrafa ao final da refeição, ele não tinha visto os olhos do pai embranquecerem. O cachorro, de boca escancarada, contemplava alternadamente seu dono e o elixir, assim como don J uan olhava ora para o pai, ora para o frasco. A lamparina soltava chamas ondulantes. O silêncio era profundo, a viola emudecera. Belvidero estremeceu acreditando ver seu pai se mexer.
Intimidado com a expressão rígida de seus olhos acusadores, fechou-os, como fecharia uma persiana batida pelo vento durante uma noite de outono. Manteve-se em pé, imóvel, perdido num mundo de pensamentos.
De repente, um ruído áspero, lembrando o rangido de molas enferrujadas, quebrou o silêncio. Don Juan, surpreendido, quase deixou o frasco cair. Um suor mais frio que o aço de um punhal, brotou de seus poros. Um galo de madeira pintada surgiu no alto de um relógio e cantou três vezes. Era uma dessas engenhosas máquinas que ajudavam os cientistas daquela época a serem acordados à hora marcada para seus trabalhos. A aurora já avermelhava as vidraças. Don Juan tinha passado dez horas a refletir. O velho relógio era mais fiel em seu serviço do que ele no cumprimento de seus deveres para com Bartolomeo. Aquele mecanismo era composto de madeiras, polias, cordas, engrenagens, ao passo que ele possuía esse mecanismo próprio do homem, chamado coração. Para não mais se arriscar a perder o misterioso licor, o cético don Juan o recolocou na gaveta da mesinha gótica. Nesse momento solene, ouviu nas galerias um surdo tumulto: eram vozes confusas, risos abafados, passos ligeiros, frufru de sedas, enfim, o barulho de um grupo alegre que tratava de se recolher. Abriu-se a porta, e o príncipe, os amigos de don J uan, as sete cortesãs e as cantoras apareceram na desordem estranha em que se encontram as bailarinas flagradas pelos clarões da manhã, quando o sol luta com as luzes desmaiadas das velas.
Vinham todos oferecer ao jovem herdeiro os consolos de praxe. "Oh!, oh!, então o pobre don J uan estaria levando a sério essa morte?", disse o príncipe ao ouvido de Brambilla.
"Mas o pai dele era um homem muito bom", ela respondeu. No entanto, as meditações noturnas de don Juan haviam conferido às suas feições uma expressão tão impressionante que impôs o silêncio ao grupo. Os homens ficaram imóveis. As mulheres, cujos lábios estavam ressecados pelo vinho, cujas faces estavam violáceas pelos beijos, ajoelharam-se e começaram a rezar. Don Juan não pôde deixar de estremecer quando viu os esplendores, as alegrias, os risos, os cantos, a juventude, a beleza, o poder, toda a vida personificada proster-nando-se assim diante da morte. Mas, naqueles tempos, na adorável Itália o deboche e a religião se casavam tão bem que ali a religião era um deboche e o deboche, uma religião! O príncipe apertou afetuosamente a mão de don Juan; depois, ao terem todos os rostos esboçado simultaneamente a mesma careta, entre a tristeza e a indiferença, aquela fantasmagoria desapareceu, deixando vazia a sala.
Era bem a imagem da vida! Ao descer as escadas, o príncipe disse a Rivabarella: "Pois é! Quem diria que a impiedade de don J uan era fanfarronice? Ele ama o pai!"
"Reparaste no cão preto?", perguntou Brambilla.
"Ei-lo imensamente rico", retrucou suspirando Bianca Cavatolino.
"Que me importa!", exclamou a orgulhosa Veronese, aquela que havia quebrado a bomboneira.
"Como, o que te importa?", exclamou o duque. "Com seus escudos ele é tão príncipe quanto eu."
Vacilando entre mil pensamentos, de início don J uan pairou entre diversas decisões. Depois de ter avaliado o tesouro acumulado por seu pai, voltou, à noitinha, ao quarto da morte, com a alma plena de um egoísmo horripilante. No aposento encontrou toda a criadagem de sua casa ocupada em juntar os ornamentos do catafalco onde o finado monsenhor seria exposto no dia seguinte, no meio de uma fantástica câmara-ardente, curioso espetáculo que toda a Ferrara devia ir admirar. Don J uan fez um sinal, e todos os seus domésticos pararam, perplexos, trêmulos.
Deixai-me sozinho aqui", disse com voz alterada, "só entrareis no momento em que eu sair."
Quando os passos do velho servidor, que era o último a sair, ecoaram tenuamente nos ladrilhos, don J uan fechou precipitadamente a porta e, certo de estar só, exclamou: "Tentemos!"
O corpo de Bartolomeo estava deitado sobre uma mesa comprida. Para escamotear de todos os olhares o espetáculo horrendo de um cadáver, cuja extrema decrepitude e magreza faziam lembrar um esqueleto, os embalsamadores tinham posto sobre o corpo uma mortalha que o envolvia todo, menos a cabeça. Aquela espécie de múmia jazia no meio do quarto; e a mortalha, naturalmente mole,
vagamente modelava as formas, pontiagudas, rígidas e delgadas. O rosto apresentava grandes manchas arroxeadas que indicavam a necessidade de terminar o embalsamamento. Apesar do ceticismo de que se armara, don J uan tremeu ao destampar o mágico frasco de cristal. Quando chegou perto da cabeça, teve até mesmo de esperar um instante, tanto que tremia. Mas desde muito cedo aquele jovem fora sabiamente corrompido pelos costumes de uma corte dissoluta; assim,uma reflexão digna do duque de Urbino veio lhe dar a coragem que uma viva sensação de curiosidade estimulava; parecia até que o demônio tinha lhe soprado essas palavras que ecoaram em seu coração: "Embebe um olho!". Pegou um pano, e, depois de molhá-lo no precioso licor, passou-o levemente sobre a pálpebra direita do cadáver. O olho se abriu.
"Ah!, ah!", disse don J uan apertando o frasco na mão, assim como em sonho apertamos o galho a que estamos suspensos no alto de um precipício.Ele via um olho cheio de vida, um olho de criança numa caveira; ali dentro a luz tremia no meio de um fluido jovem! E, protegida por belos cílios negros, ela cintilava, semelhante a esses clarões estranhos que o viajante enxerga num campo deserto, em noites de inverno. Aquele olho flamejante parecia querer se atirar sobre don J uan, e pensava, acusava, condenava, ameaçava, julgava, falava, gritava, mordia. Todas as paixões humanas ali se agitavam. Eram as súplicas mais ternas: a cólera dos reis, depois o amor de uma moça pedindo graça a seus carrascos; por fim o olhar profundo que um homem lança sobre os homens ao escalar o último degrau do cadafalso. Explodia tanta vida naquele fragmento de vida que don Juan
recuou, apavorado; andou pelo quarto, sem se atrever a olhar para aquele olho, que ele revia no assoalho, nas tapeçarias. O quarto estava salpicado de pontos cheios de fogo, de vida, de inteligência. Por toda parte brilhavam olhos, que uivavam atrás dele.
"Ele bem que teria vivido mais cem anos", exclamou, involuntariamente, no momento em que, levado até diante de seu pai por um ímpeto diabólico, contemplou aquela centelha luminosa.
De repente a pálpebra inteligente se fechou e se abriu bruscamente, como a de uma mulher que consente. Tivesse uma voz gritado "Sim!", don J uan não teria se apavorado mais.
"Que fazer?", pensou.
Teve a coragem de tentar fechar aquela pálpebra branca. Seus esforços foram inúteis.
"Furá-lo? Será talvez um parricídio?", perguntou a si mesmo.
"Sim", disse o olho dando uma piscada de espantosa ironia.
"Ah!, ah!", exclamou don Juan, "aí dentro tem feitiçaria."
E aproximou-se do olho para esmagá-lo. Uma grossa lágrima rolou pelas faces encovadas do cadáver e caiu na mão de Belvidero.
"Está escaldante", exclamou, sentando-se.
Essa luta o cansara como se, a exemplo de Yacob, tivesse combatido contra um anjo. Por fim, levantou-se dizendo: "Tomara que não haja sangue!"Em seguida, reunindo toda a coragem necessária para ser covarde, esmagou o olho, apertando-o com um pano, mas sem olhá-lo. Fez-se ouvir um gemido inesperado, mas terrível. O pobre cão de caça expirava, uivando.
"Será que saberia o segredo?", perguntou-se don Juan olhando para o animal fiel.
Don J uan Belvidero passou por um filho piedoso. Ergueu um monumento de mármore branco sobre o túmulo do pai e entregou a execução das imagens aos mais famosos artistas da época. Só ficou perfeitamente tranqüilo no dia em que a estátua paterna, ajoelhada diante da Religião, impôs seu peso enorme sobre aquela cova no fundo da qual enterrou o único remorso que aflorara em seu coração nos momentos de lassidão física. Ao inventariar as imensas riquezas acumuladas pelo velho orientalista, don J uan tornou-se avarento: não tinha ele de prover financeiramente duas vidas humanas? Seu olhar profundamente escrutador penetrou nos princípios da vida social e abarcou o mundo tanto melhor quanto o via através de um túmulo. Analisou os homens e as coisas para liquidar de vez com o Passado, representado pela História, com o Presente, configurado pela Lei, com o Futuro, revelado pelas Religiões. Pegou a alma e a matéria, jogou-as num crisol, e nada encontrou; desde então, tornou-se don Juan.
Senhor das ilusões da vida, jovem e belo, lançou-se na existência desprezando o mundo, mas apoderando-se do mundo. Sua felicidade não podia ser aquela felicidade burguesa que se delicia com um cozido periódico, com um aquecedor no leito durante o inverno, com uma lamparina para a noite e chinelos novos a cada trimestre. Não, agarrou a vida como um macaco agarra uma noz, e depois de brincar algum tempo com o fruto, despojou habilmente seus invólucros vulgares e degustou sua polpa saborosa.
A poesia e os sublimes arrebatamentos da paixão humana não foram mais alto do que seu calcanhar. Não cometeu mais o erro desses homens poderosos que, imaginando por vezes que as pequenas almas creem nas grandes, atrevem-se a trocar seus altos pensamentos do futuro pela moedinha de nossas idéias transitórias. Bem poderia, como eles, andar com os pés na terra e a cabeça nos céus; mas preferia sentar-se e secar com seus beijos mais de um lábio de mulher meiga, fresca e perfumada; pois, semelhante à morte, por onde passasse devorava tudo sem pudor, desejando um amor possessivo, um amor oriental, de prazeres longos e fáceis. Amando nas mulheres apenas a mulher, fez da ironia um traço natural de sua alma. Quando suas amantes se serviam de um leito para subir aos céus, aonde iam se perder num êxtase inebriante, don J uan as seguia, grave, expansivo, tão sincero quanto sabe ser um estudante alemão. Mas dizia "eu", enquanto sua amante, alucinada, desvairada, dizia "nós". Sabia admiravelmente bem deixar-searrastar por uma mulher. Era sempre muito inteligente para fazê-la crer que ele tremia como um jovem ginasiano que diz à sua primeira parceira, num baile: "Gostas de dançar?". Mas também sabia rugir quando necessário, puxar sua espada poderosa e dobrar os comendadores. Em sua simplicidade havia troça e em suas lágrimas havia riso, pois sempre soube chorar, tanto quanto uma mulher que diz ao marido: "Dá-me uma carruagem, senão morrerei de doença do peito".
Para os negociantes, o mundo é uma trouxa de mercadorias ou um maço denotas em circulação; para a maior parte dos jovens, é uma mulher; para certas mulheres, é um homem; para certos espíritos, é um salão, uma coterie, um bairro, uma cidade; para don Juan, o universo era ele mesmo. Modelo de graça e nobreza, espírito sedutor, ancorou sua barca em todas as praias; mas, ao se deixar conduzir, não ia até aonde queria ser levado. Quanto mais viveu, mais duvidou. Ao examinar os homens, não raro adivinhou que a coragem era temeridade; a prudência, uma poltronice; a generosidade, fineza; a justiça, um crime; a delicadeza, uma tolice; a probidade, uma conformação; e, por uma fatalidade singular, deu-se conta de que as pessoas realmente probas, delicadas, justas, generosas, prudentes e corajosas não mereciam a menor consideração entre os homens. "Que brincadeira fria!", pensava. "Ela não vem de um deus." E então, renunciando a um mundo melhor, nunca mais se descobriu ao ouvir pronunciar um nome sagrado e passou a considerar os santos de pedra nas igrejas obras de arte. Assim, compreendendo o mecanismo das sociedades humanas, jamais feria demasiado os preconceitos, porque não era tão poderoso como o carrasco; mas contornava as leis sociais com essa graça e esse espírito tão bem reproduzidos em sua cena com o senhor Domingo. Foi, na verdade, o Don J uan de Molière, o Fausto de Goethe, o Manfre de Byron e o Melmoth de Maturin. Grandes imagens traçadas pelos maiores gênios da Europa, e às quais não faltarão os acordes de Mozart nem talvez a lira de Rossini. I magens terríveis que o princípio do mal, existente nos homens, eterniza, e das quais encontramos algumas cópias de século em século: quer esse tipo entre em entendimentos com os homens e encarne-se num Mirabeau, quer se contente de agir em silêncio, como Bonaparte, ou de subjugar o universo com ironia, como o divino Rabelais; ou ainda que ria das criaturas, em vez de insultar as coisas, como o marechal de Richelieu; e, talvez melhor, é que ele caçoe a um só tempo dos homens e das coisas, como o nosso mais famoso embaixador. Mas o gênio profundo de don Juan Belvidero resumiu antecipadamente todos esses gênios. Zombou de tudo. Sua vida era um escárnio que abarcava homens, coisas, instituições, idéias. Quanto à eternidade, depois de ter conversado familiarmente durante meia hora com o papa Júlio II, dissera-lhe, rindo: "Se é imprescindível escolher, prefiro acreditar em Deus a crer no diabo; o poder unido à bondade sempre oferece mais recursos do que tem o Gênio do Mal."
"Sim, mas Deus quer que se faça penitência neste mundo..."
"Então pensais sempre em vossas indulgências?", respondeu Belvidero. "Pois bem! Para me arrepender das faltas de minha primeira vida, tenho toda uma existência em reserva."
"Ah!, se compreendes assim a velhice", exclamou o papa, "te arriscas a ser canonizado."
"Depois de vossa elevação ao papado, pode-se acreditar em tudo."
E foram ver os operários que construíam a imensa basílica consagrada a são Pedro.
“São Pedro é o homem de gênio que instituiu o nosso duplo poder", disse o papa a don J uan, "ele merece esse monumento. Mas às vezes, de noite, penso que um dilúvio passará a esponja em tudo isso, e será preciso recomeçar..."
Don J uan e o papa caíram na risada: tinham se entendido. Um tolo teria ido, no dia seguinte, divertir-se com J úlio I I em casa de Rafael ou na deliciosa Villa Madama. Mas Belvidero foi vê-lo oficiar pontificalmente, a fim de se convencer as dúvidas que tinha. Num deboche Delia Rovere seria capaz de se desmentir e de comentar o Apocalipse. Todavia, essa lenda não foi criada para fornecer material aos que quiserem escrever biografias de don J uan. Ela está destinada a provar às pessoas honestas que Belvidero não morreu num duelo com uma pedra, como certas litografias
querem fazer crer. Quando don J uan Belvidero atingiu a idade de sessenta anos, foi se fixar na Espanha. Lá, em seus dias de velhice, casou-se com uma jovem e encantadora andaluza. Mas, de propósito, não foi bom pai nem bom esposo. Tinha observado que somos mais ternamente amados pelas mulheres com quem quase não sonhamos.
Doña Elvira, criada santamente por uma velha tia no fundo da Andaluzia, num castelo a poucas léguas de San Lucar, era toda devoção e toda graça. Don J uan pressentiu que aquela jovem seria mulher de combater muito tempo uma paixão antes de ceder; portanto, esperou poder conservá-la virtuosa até sua morte. Foi uma brincadeira levada a sério, uma partida de xadrez que ele quis se reservar para jogar durante a velhice. Tendo aprendido com todas as faltas cometidas por seu pai, Bartolomeo, don J uan resolveu submeter as menores ações da velhice ao êxito do drama que devia se encenar em seu leito de morte. Assim, a maior parte de suas riquezas ficou enfurnada nos porões de seu palácio em Ferrara, aonde raramente ia. Quanto ao resto de sua fortuna, ele a investiu numa renda vitalícia, a fim de que sua mulher e seus filhos tivessem interesse em prolongar sua vida, espécie de artimanha que seu pai deveria terpraticado; mas essa especulação de maquiavelismo não lhe foi muito necessária. Seu filho, o jovem Filipe Belvidero, tornou-se um espanhol tão conscienciosamente religioso quanto seu pai era ímpio, talvez em virtude do provérbio "Pai avarento, filho pródigo". O abade de San Lucar foi escolhido por don J uan para dirigir a consciência da duquesa de Belvidero e de Filipe. Esse eclesiástico era um santo homem, de belo porte, de uma elegância admirável, com belos olhos pretos, uma cabeça como a de Tibério, fatigada pelos jejuns, branca de maceração, e diariamente tentado, como são todos os solitários. Talvez o velho nobre ainda esperasse poder matar um monge antes que seu primeiro contrato de vida expirasse.
Mas, ou porque o padre era tão inteligente como o próprio don J uan, ou porque doña Elvira tinha mais prudência ou virtude do que a Espanha confere às mulheres, don J uan foi obrigado a passar seus últimos dias como um velho pároco de aldeia, sem escândalo em casa. Às vezes, sentia prazer em flagrar seu filho ou a mulher em erro nos seus deveres religiosos, e queria imperiosamente que cumprissem todas as obrigações impostas aos fiéis pela corte de Roma. Enfim, nunca era tão feliz como ao ouvir o galante abade de San Lucar, doña Elvira e Filipe discutindo um caso de consciência.
Contudo, apesar dos cuidados extraordinários que o senhor don J uan Belvidero dava à própria pessoa, os dias da decrepitude chegaram; com essa idade da dor, vieram os gritos da impotência, gritos ainda mais lancinantes na medida em que mais ricas eram as recordações de sua efervescente juventude e de sua voluptuosa maturidade. Esse homem, em quem o grau último de escárnio consistia em levar os outros a crer nas leis e nos princípios de que ele caçoava, adormecia à noite com um "talvez". Esse modelo de bom-tom, esse duque, vigoroso numa orgia, soberbo nas cortes, gracioso junto às mulheres cujo coração ele dobrara assim como um camponês dobra uma vara de vime, esse homem de gênio com uma coriza teimosa, uma ciática importuna, uma gota brutal. Via seus dentes o abandonarem assim como, no fim de uma noitada, as senhoras mais brancas, as mais bem-vestidas se vão, uma a uma, deixando o salão deserto e despojado. Finalmente, suas mãos ousadas tremeram, suas pernas esbeltas cambalearam, e numa noite a apoplexia apertou seu pescoço com suas mãos ganchudas e gélidas. Desde esse dia fatal, tornou-se vagaroso e duro.
Acusava a dedicação de seu filho e de sua mulher, alegando às vezes que seus cuidados, comoventes e delicados, só lhe eram tão carinhosamente prestados porque ele investira toda a sua fortuna em rendas vitalícias. Então, Elvira e Filipe derramavam lágrimas amargas e redobravam as carícias junto do malicioso ancião, cuja voz alquebrada se tornava afetuosa ao lhes dizer: "Meus amigos, minha querida mulher, vós me perdoais, não é? Atormento-vos um pouco. Ai de mim! Ó Deus! Como te serves de mim para pôr à prova essas duas celestes criaturas? Eu, que deveria ser a alegria deles, sou seu flagelo".
Foi assim que os amarrou à cabeceira de sua cama, fazendo-os esquecer meses inteiros de impaciência e crueldade em troca de uma hora em que exibia para eles os tesouros sempre novos de sua graça e uma falsa ternura. Sistema paterno que deu infinitamente mais certo do que aquele que outrora seu pai empregara com ele. Por fim, a doença chegou a tal estágio que, para pô-lo na cama, era preciso manobrá-lo como se fosse uma faluca entrando num canal perigoso. Depois, chegou o dia da morte. Esse personagem brilhante e cético, em quem só o
entendimento sobrevivia à mais atroz de todas as destruições, viu-se entre um médico e um confessor, suas duas antipatias. Mas foi cordial com os dois. Não havia para ele uma luz cintilante atrás do véu do porvir? Sobre essa tela, de chumbo para os outros e diáfana para ele, as leves, as encantadoras delícias da juventude brincavam como sombras.
Foi numa bela noite de verão que don J uan sentiu a aproximação da morte. O céu da Espanha era de uma admirável pureza, as laranjeiras perfumavam o ar, as estrelas destilavam luzes vivas e frescas, a natureza parecia lhe dar garantias seguras da sua ressurreição, um filho piedoso e obediente o contemplava com amor e respeito. Por volta das onze horas, quis ficar a sós com essa cândida criatura.
"Filipe", disse-lhe com voz tão terna e tão afetuosa que o rapaz estremeceu e chorou de felicidade. Nunca esse pai inflexível tinha pronunciado assim: "Filipe!". "Escuta, meu filho", retomou o moribundo. "Sou um grande pecador. Por isso pensei, durante toda a minha vida, na morte. Outrora fui amigo do grande papa J úlio I I . Esse ilustre pontífice temeu que a excessiva excitação de meus sentidos me levasse a cometer um pecado mortal entre o momento em que eu expirasse e aquele em que tivesse recebido os santos óleos; deu-me de presente um frasco no qual existe a água santa que jorrou outrora dos rochedos no deserto. Guardei o segredo dessa dilapidação do tesouro da I greja, mas estou autorizado a revelar o mistério a meu filho, in articulo mortis. Encontrarás o frasco na gaveta dessa mesa gótica que nunca saiu de perto da cabeceira de meu leito... O precioso cristal poderá servir-te ainda, meu bem-amado Filipe. J uras-me, por tua salvação eterna, que executarás rigorosamente as minhas ordens?"
Filipe olhou para seu pai. Don J uan conhecia bem demais a expressão dos sentimentos humanos para não morrer em paz acreditando naquele olhar, assim como seu próprio pai morreu em desespero acreditando no seu.
"Merecerias um outro pai", recomeçou don J uan. "Ouso confessar-te, meu filho,que no momento em que o respeitável abade de San Lucar me ministrava o viático, eu pensava na incompatibilidade de dois poderes tão amplos como os do diabo e de Deus."
"Ah!, meu pai!"
"E pensava que, quando Satanás fizer a paz, deverá, sob pena de ser um grande miserável, conceder o perdão a seus seguidores. Esse pensamento me persegue. Portanto, eu iria para o inferno, meu filho, se não cumprisses as minhas vontades." "Ah!, dizei-as prontamente, meu pai!"
“Assim que eu fechar os olhos", retomou don J uan, "daqui a alguns minutos talvez, pegarás o meu corpo, quente ainda, e o estenderás sobre uma mesa no meio deste quarto. Depois apagarás esta lamparina; a luz das estrelas deve bastar. Tu me despojarás de minhas roupas; e, enquanto recitares os Pater e as Ave elevando a tua alma a Deus, terás o cuidado de umedecer, com esta água santa, meus olhos, meus lábios, toda a cabeça primeiro, depois sucessivamente os membros e o corpo; mas, meu querido filho, o poder de Deus é tão grande que nada deverá te espantar!"
Aqui, don Juan, sentindo a morte chegar, acrescentou numa voz terrível "Segura bem o frasco." Depois expirou suavemente nos braços de um filho cujas lágrimas abundantes rolaram por sua face irônica e pálida. Era perto da meia-noite quando don Filipe Belvidero pôs o cadáver de seu pai em cima da mesa. Após ter beijado a fronte ameaçadora e os cabelos grisalhos, apagou a lamparina. A claridade suave que vinha do luar, cujos reflexos estranhos iluminavam o campo, permitiu ao piedoso Filipe entrever indistintamente o corpo de seu pai, como alguma coisa branca no meio da sombra. O jovem embebeu o pano no licor e, mergulhado na prece, ungiu aquela cabeça sagrada, em meio a um profundo silêncio. Bem que ouvia uns estremecimentos indescritíveis, mas os atribuía aos balanços da brisa nas copas das árvores. Quando molhou o braço direito, sentiu seu pescoço fortemente apertado por um braço jovem e vigoroso, o braço de seu pai. Soltou um grito lancinante e deixou cair o frasco, que se quebrou. O licor evaporou. Os empregados do castelo acorreram, armados de tochas. Aquele grito os tinha apavorado e surpreendido, como se a trombeta do Juízo Final houvesse sacudido o universo. Num instante o quarto encheu-se de gente. A multidão trêmula viu don Filipe desmaiado, mas preso pelo braço poderoso do pai, que apertava o seu pescoço. Depois, coisa sobrenatural, a platéia viu a cabeça de don Juan, tão jovem, tão bela como a de Antinoo; uma cabeça de cabelos pretos, olhos brilhantes, boca vermelha, e que se agitava horrivelmente sem poder mexer o esqueleto ao qual pertencia.Um velho servidor gritou: "Milagre!". E todos os espanhóis repetiram: Milagre!".
Piedosa demais para admitir os milagres da magia, dona Elvira mandou buscar o abade de San Lucar. Quando o prior contemplou com os próprios olhos o milagre, resolveu se aproveitar, como homem de espírito e como padre que era, pois tudo o que queria era aumentar suas rendas. Ao declarar de imediato que o senhor don Juan seria infalivelmente canonizado, anunciou a cerimônia da apoteose no seu convento, que de agora em diante se chamaria, disse ele, San Juan de Lucar. Diante dessas palavras, a cabeça fez uma careta um tanto jocosa.
O gosto dos espanhóis por solenidades dessa espécie é tão conhecido que não deve ser difícil acreditar nas fantasias religiosas com as quais a abadia de San Lucar celebrou o traslado do bem-aventurado don Juan Belvidero para sua igreja. Alguns dias depois da morte desse ilustre senhor, o milagre de sua ressurreição imperfeita tinha se espalhado tão intensamente de aldeia em aldeia, num raio de mais de cinquenta léguas em torno de San Lucar, que já foi uma comédia ver os curiosos pelos caminhos; vieram de todos os lados, atraídos por um Te De um cantado à luz de tochas.
A antiga mesquita do convento de San Lucar, maravilhoso edifício construído pelos mouros e cujas abóbadas ouviam havia três séculos o nome de J esus Cristo substituindo o de Alá, não foi suficiente para conter a multidão que acorrera a fim de assistir à cerimônia. Apertados como formigas, fidalgos com mantos de veludo e armados com suas boas espadas mantinham-se em pé em torno das pilastras, sem achar lugar para flexionar os joelhos que só ali se flexionavam. Camponesas encantadoras, cujas vasquinhas delineavam as formas amorosas, davam o braço a velhos de cabelos grisalhos. J ovens de olhos de fogo encontravam-se ao lado de velhas enfeitadas. Depois havia casais fremindo de contentamento, noivas curiosas levadas por seus bem-amados; recém-casados; crianças medrosas segurando-se pelas mãos. Esse mundo de gente que lá estava era rico em cores, brilhante de contrastes, carregado de flores esmaltadas, fazendo um suave tumulto no silêncio
da noite. As largas portas da igreja se abriram. Aqueles que, chegando tarde demais, ficaram do lado de fora, viam de longe, pelos três pórticos abertos, uma cena de que os cenários vaporosos de nossas óperas modernas não conseguiriam dar uma vaga idéia. Devotos e pecadores, apressados em ganhar as boas graças de um novo santo, acenderam em sua homenagem milhares de círios nessa vasta igreja, chamas interesseiras que conferiram aspectos mágicos ao monumento. As arcadas negras, as colunas e seus capitéis, as capelas profundas e brilhando de ouro e prata, as galerias, os rendilhados sarracenos, os traços mais delicados dessa escultura delicada desenhavam-se naquela luz superabundante como figuras caprichosas que se formam num braseiro rubro. Era um oceano de fogo, dominado,no fundo da igreja, pelo coro dourado onde se erguia o altar-mor, cuja glória teria rivalizado com a do sol nascente. Com efeito, o esplendor das luminárias de ouro, dos candelabros de prata, dos estandartes, das borlas, dos santos e dos ex-votos ofuscava-se diante do relicário onde estava donjuan. O corpo do ímpio resplandecia de pedrarias, flores, cristais, diamantes, ouro, plumas tão brancas como as asas de um serafim, e substituía no altar um quadro de Cristo. Ao seu redor brilhavam inúmeros círios que lançavam nos ares ondas flamejantes. O bom abade de San Lucar, paramentado com os hábitos pontificais, tendo sua mitra enriquecida de pedras preciosas, a sobrepeliz, o báculo de ouro, sentava-se, como rei do coro, numa poltrona de luxo imperial, no meio de todo o seu clero, composto de anciões impassíveis de cabelos prateados, vestidos de alvas finas, semelhantes aos santos confessores que os pintores agrupam em volta do Eterno. O mestre-de-capela e os dignitários do capítulo, enfeitados com as brilhantes insígnias de suas vaidades eclesiásticas, iam e vinham entre nuvens formadas pelo incenso, lembrando os astros que rolam no firmamento.
Quando chegou a hora do triunfo, os sinos despertaram os ecos do campo, e a imensa assembléia lançou a Deus o primeiro grito de louvores que inicia o Te Deum. Grito sublime! Eram vozes puras e leves, vozes de mulheres em êxtase misturadas às vozes graves e fortes dos homens, milhares de vozes tão fortes que o órgão não dominou o seu conjunto, apesar do bramido de seus tubos. Só as notas estridentes da voz jovem dos meninos do coro e as longas inflexões de alguns baixos suscitaram idéias graciosas, pintaram a infância e a força, nesse concerto encantador de vozes humanas fundidas num sentimento de amor.
Te Deum laudemus! Do centro daquela catedral repleta de mulheres e homens ajoelhados o canto partiu semelhante a uma luz que de repente cintila na noite, e o silêncio foi quebrado como por um estrondo de trovão. As vozes subiram com as nuvens de incenso que então projetavam véus diáfanos e azulados sobre as fantásticas maravilhas da arquitetura. Tudo era riqueza, perfume, luz e melodia. No momento em que essa música de amor e gratidão lançou-se em direção ao altar, don Juan, polido demais para não agradecer, espirituoso demais para não entender o sarcasmo, respondeu com um riso pavoroso e fez uma pose indolente dentro de seu relicário. Mas como o diabo o levou a pensar no perigo que corria de ser confundido com um homem comum, com um santo, um Bonifácio, um Pantaleão, ele perturbou aquela melodia de amor dando um berro ao qual se juntaram as mil vozes do inferno. A terra abençoava, o céu amaldiçoava. A igreja tremeu em suas velhas bases.
Te Deum laudemus!, gritava a assembléia."Vão todos para o diabo, bestas, brutos que sois! Deus! Deus! Carajos demônios, animais, como sois estúpidos com vosso Deus-ancião!"
E uma torrente de imprecações rolou como um riacho de lavas em brasa durante uma erupção do Vesúvio.
Deus Sabaoth! Sabaothl, gritaram os cristãos.
"Insultais a majestade do inferno!", respondeu don Juan, rangendo os dentes. Logo o braço vivo conseguiu passar por cima do relicário, e ameaçou a assembléia com gestos marcados pelo desespero e pela ironia.
"O santo nos abençoa", disseram as velhas senhoras, as crianças e os noivos, gente crédula.
Eis como não raro somos enganados nas nossas adorações. O homem superior debocha dos que o louvam, e às vezes louva aqueles de quem debocha no fundo do coração.
No momento em que o abade, prosternado diante do altar, cantava "Sancte Johanes, orapro nobis", ele ouviu muito claramente: "O coglione!".
"Mas o que se passa lá em cima?", exclamou o subprior ao ver o relicário se mexer.
"O santo está fazendo o diabo", respondeu o abade. Então aquela cabeça viva se separou violentamente do corpo que já não vivia e caiu sobre o crânio amarelo do oficiante.
"Lembra-te de dona Elvira", gritou a cabeça, devorando a do abade.
Este deu um grito horripilante, que perturbou a cerimônia. Todos os padres acorreram e cercaram seu soberano.
"Imbecil, pois sim que existe um Deus!", gritou a voz no momento em que o abade, mordido no crânio, expirava.
Tradução de Rosa Freire D'Aguiar
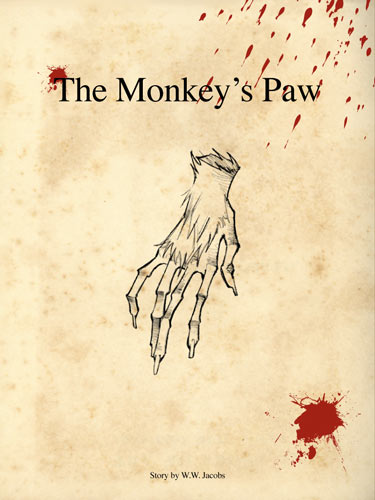 Lá fora, a noite era fria e húmida, mas, na pequena sala de estar da Vila Lakesnam, as gelosias estavam cerradas e o fogo brilhava alegremente. Pai e filho estavam jogando xadrez, e o primeiro,
que possuía ideias sobre o jogo, envolvendo uma mudança radical de táctica, punha o rei em tão
desesperados e desnecessários perigos que provocou comentários até da velha senhora de cabelos
brancos, que estava fazendo, placidamente, croché perto do fogo.
Lá fora, a noite era fria e húmida, mas, na pequena sala de estar da Vila Lakesnam, as gelosias estavam cerradas e o fogo brilhava alegremente. Pai e filho estavam jogando xadrez, e o primeiro,
que possuía ideias sobre o jogo, envolvendo uma mudança radical de táctica, punha o rei em tão
desesperados e desnecessários perigos que provocou comentários até da velha senhora de cabelos
brancos, que estava fazendo, placidamente, croché perto do fogo. 

